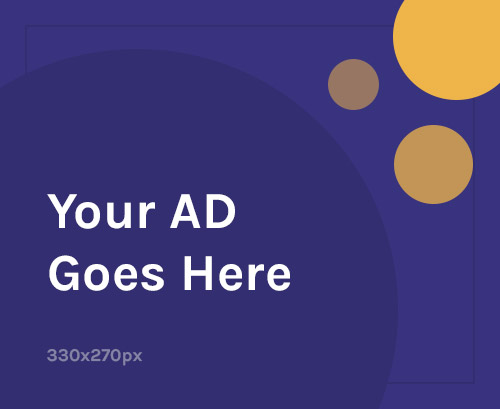Em 2016 o médico Paulo Basta, clínico geral, doutor em Saúde Pública pela fundação Oswaldo Cruz, estudou e denunciou a fundo toda falta de estrutura e apoio do então governo Dilma.
Em entrevista, Paulo mostrou que há anos essa tribo sofre com descaso público.

CRESCER: Quais são as principais causas da elevada taxa de mortalidade na infância entre os indígenas?
Paulo Basta: Sempre que vamos falar de indígenas, precisamos fazer um esclarecimento. Há um ideário do senso comum de que os indígenas são todos iguais, pessoas que vivem nuas na floresta – e isso é um grande equívoco. As populações indígenas são distintas. Atualmente, são mais de 700 mil pessoas que se declaram indígenas no país, representando 300 etnias, com 220 línguas. Qualquer tipo de generalização que se faça é um risco. A realidade de uma etnia pode não se aplicar a outra. Dos 34 distritos indígenas (Dsei), estive em dez, então falo de minha experiência: a situação de saúde indígena não é boa se comparada a outras populações. A taxa de mortalidade na infância é muito elevada, principalmente na área das etnias Xavante (MT) e Yanomami (RR e AM). As aldeias são muito carentes, vivem em situações precárias. A população é pobre e a insegurança alimentar é permanente em algumas regiões. Muitas não têm acesso à terra e aos recursos naturais que viabilizam a caça e a pesca. Também não têm água de boa qualidade. Isso reflete direto na saúde.
P. B: Há doenças de vários tipos. As infecciosas e parasitarias são predominantes, mas atendemos também doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. Na infância, uma série de agravos acometem as crianças indígenas, principalmente pneumonia, diarreia e desnutrição. A desnutrição infantil, em especial, é alarmante. Enquanto no Brasil, de maneira geral, a desnutrição de crianças menores de 5 anos tem diminuído amplamente (hoje atingindo no máximo 5% delas), as indígenas, em particular, têm índices de nutrição em média de 40% nas regiões norte do país. No Dsei Yanomami, por exemplo, 85% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica. Esse quadro prejudica o desenvolvimento de várias maneiras: a criança não tem um sistema imunológico eficiente e fica sujeita a uma série de infecções oportunistas. Assim, uma simples gripe pode virar uma pneumonia, pode ter tuberculose. Muitas pessoas acabam atribuindo esses problemas de saúde à cultura, ao modo de vida dos indígenas, porque enxergam a situação com discriminação e preconceito. Isso é algo que precisa ser esclarecido: a cultura não é uma explicação, não justifica os indicadores de saúde.
C: E qual seria a explicação?
P. B.: Não há como falar em uma única causa para a situação da saúde atual, é um conjunto de problemas. A saúde em si não depende exclusivamente do setor da saúde. É óbvio que ele tem sim seu papel ao fazer intervenções, iniciar tratamento, recuperar as pessoas. Mas não há saúde sem alimentação adequada, boa qualidade de vida, água potável. Comprimido não mata fome. Alguns problemas não dependem só do setor de saúde. Por exemplo, o saneamento básico é péssimo, precário. Se levar água potável para as aldeias, seguramente as crianças não terão tanta diarreia. Creio que 50% do problema seria resolvido sem médico, sem enfermeiro, sem um comprimido, apenas com uma ação simples: levar água potável para as aldeias e coletar os dejetos humanos com um sistema de esgotamento. A mesma coisa com a desnutrição. Se derem condições de a população ter uma produção de alimentos que seja em quantidade e qualidade suficientes, o problema de desnutrição será resolvido. A falta do alimento gera desnutrição que, por sua vez, abre porta para uma série de outros agravos.

(Foto: Arquivo pessoal)
C: Mas, tendo em vista as áreas de atuação do setor saúde, no que ele efetivamente pode intervir? Quais são as principais dificuldades?
P.B.: A infraestrutura é um dos grandes problemas. Existem mais de 5 mil aldeias no país e a maioria delas não tem posto de saúde. As que têm, são locais com estrutura pequena, com farmácia pequena, com número restrito de medicamentos, com uma maca e, se tiver local para exame clínico, é um padrão razoável até. Então não há estrutura para realizar o atendimento, não tem medicamento em quantidade adequada, equipamentos para atendimento de emergência, como picada de cobra ou fratura. Também não há laboratório para fazer diagnósticos elaborados. Digo isso porque passei por essas dificuldades durante minha trajetória enquanto profissional. Havia situações em que eu me desdobrava, fazia o atendimento com o que tinha disponível. Mas chega um momento em que a capacidade de resolução fica limitada, e é preciso transferir a pessoa para a cidade mais próxima onde exista um hospital. Muitas vezes, essa transferência demora dias. Na Amazônia, por exemplo, tem regiões que só chegamos de barco. Barco pequeno, de motorzinho de popa. Tem algumas comunidades que você leva até 7 dias para se deslocar da aldeia ao posto de saúde mais próximo. Temos um problema importante em relação à logística.
C: Há resistência da comunidade médica em trabalhar nesses locais?
P.B.: Sim, com certeza. Infelizmente, somente as pessoas provenientes da elite têm acesso aos cursos de medicina no Brasil. São indivíduos que têm uma situação socioeconômica confortável. Com as cotas e o acesso universal à educação, essa realidade tem se modificado, mas, historicamente, quem chega às faculdades de medicina são provenientes da classe A e B. Essas pessoas querem manter o seus status, querem ficar nos grandes centros, se especializar, fazer procedimentos, ter suporte de diagnósticos, intervenções cirúrgicas, que é o que dá prestígio, renda e mantém o status quo. É muito difícil encontrar pessoas que se disponham a sair dos grandes centros e morarem no interior da Amazônia e trabalharem nas condições que acabei de dizer: ficar em uma aldeia distante, com acesso de barco e helicóptero, morando em uma casa de aldeia, em barracão, sem água potável, banheiro, sem local para tomar banho. Se quiser cozinhar, tem que levar sua comida, porque lá não tem alimentação em quantidade suficiente para a própria população, muito menos para quem chega. Então é uma situação complicada. Por isso que há um déficit de médicos nas aldeias muito grande.
C: E há resistência por parte dos indígenas em intervenções médicas?
P.B.: Enquanto médico, eu nunca tive problemas graves de rejeição, de indígenas não quererem o atendimento ou se recusarem a tomar medicamento. Muito pelo contrário. Mas cada aldeia tem uma realidade. Há uma dificuldade muito grande no entendimento, porque são 220 línguas faladas e em muitas aldeias poucos falam português. Não são todas que possuem intérpretes e agentes indígenas de saúde que têm papel de mediação entre os profissionais e a comunidade. Em algumas situações, a dificuldade de comunicação prejudica o tratamento. Se você quer prescrever um medicamento com um horário certo de tomar, como a cada oito horas, isso é muito difícil para as mães indígenas, que têm uma compreensão limitada do português.
C: Para sanar a demanda interna de profissionais da saúde, qual seria a solução?
P.B.: O Programa Mais Médicos, de certa maneira, preenche essa lacuna. Com ele, o Governo Federal levou médicos a regiões que historicamente são deficientes desses profissionais. Algumas localidades que nunca tinham visto médicos na vida. O programa tem esse mérito. Mas os médicos são estrangeiros. Os cubanos chegam para uma missão com prazo de validade, depois vão embora. É algo a curto prazo. Então, para falta de médicos brasileiros nessas localidades, são interessantes as cotas e residência em locais do interior, pois a interiorização do profissional de saúde não é apenas uma questão restrita a área indígena. Se você for nos interiores do Nordeste, nos interiores da Amazônia, onde não há indígenas, em municípios pequenos que não têm estrutura, a situação é semelhante. As pessoas não se animam para ficar em um lugar desses. O que tem sido pensado intersetorialmente, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, é fazer uma ampliação no número de vagas das faculdades de medicina, formar mais médicos e condicionar a formação. Nessa perspectiva, queremos abrir novos cursos, tirando o foco dos grandes centros e levando para o interior.